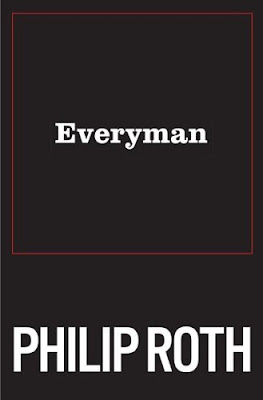
Poucas semanas depois da morte de Saul Bellow em 2005, o editor literário da New Republic, Leon Wieseltier, escreveu um curto artigo sobre o funeral, realizado num cemitério judeu em Brattleboro. Os amigos e familiares de Bellow manusearam as pás e cobriram o caixão com terra. No final do serviço, Wieseltier afastou-se e olhou para trás, «... and suddenly I needed him. Three shovels stood rudely in the remains of the dirt pile. Like stubbed cigarettes, I thought—but that was no good. I needed Saul for his mighty power of metaphor, so that he could tell me what his own grave looked like, what unexpected word, what unimagined element of the universe, could unlock its meaning. Who will describe things now?»
Everyman, como Roth admitiu em várias entrevistas, foi uma resposta à perda sucessiva de vários amigos íntimos, Bellow incluído; o primeiro capítulo foi escrito no dia seguinte ao funeral. Na página 57, encontramos a mesma imagem do artigo de Wieseltier - três pás cravadas numa pirâmide de terra - e uma apta ilustração das diferenças estéticas entre dois grandes escritores, e daquilo que o leitor tem direito a esperar das respectivas prosas. Roth não tem qualquer interesse em fetichizar os objectos, tentando extrair deles significado metafísico. As pás são adereços, e estão em cena para fazer aquilo que as pás fazem:
His father was going to lie not only in the coffin but under the weight of that dirt, and all at once he saw his father's mouth as if there were no coffin, as if the dirt they were throwing into the grave was being deposited straight down on him, filling up his mouth, blinding his eyes, clogging his nostrils, and closing off his ears. He wanted to tell them to stop, to command them to go no further - he did not want them to cover his father's face (...) I've been looking at that face since I was born - stop burying my father's face!
---
O projecto literário que Roth tem vindo a desenvolver aproximadamente desde Patrimony (1991) é uma espécie de teologia da memória; uma tentativa de fixar secularmente na página um tempo e um local específicos (os bairros judeus de Newark nos anos do pós-guerra), evitando os sarilhos da vida eterna. Os seus personagens, que até então estavam no seu melhor quando davam largas à fúria histérica ou à luxúria frustrada, passaram a ter acesso a insuspeitos reservatórios de calma - e a recordar. Até Mickey Sabbath, o misantrópico protagonista do mais furioso livro de Roth, teve direito a inesperados interlúdios sobre o idílio antes da Queda. Everyman continua essa tendência, com o reaparecimento de alguns elementos já familiares: a infância idealizada, o heroísmo banal da figura paterna, o atleticismo protector de um irmão mais velho, etc. (E num insólito retro-flash da sua fase 'anos 80', como se a lembrar o leitor de que está a ler um livro de Philip Roth, uma jovem modelo escandinava é devidamente sodomizada). Mas o tom geral é sombrio, e as águas vitais estão inegavelmente mais turvas.
Era quase inevitável que o livro fosse descrito como uma "meditação sobre a morte", mas parece-me mais rigoroso falar de uma meditação sobre o sistema imunitário, ou de um catálogo não-exaustivo de intervenções cirúrgicas. Everyman é acima de tudo um livro sobre "não morrer", sobre o vandalismo perpetrado sobre o corpo pelo pior delinquente de todos: o Tempo.
(O próprio fluxo temporal é violentamente distorcido, moldado às preocupações dominantes do livro, que são preocupações clínicas. Uma hérnia e um apêndice perfurado têm direito a dezasseis páginas, enquanto 22 anos ("twenty-two years of excellent health") são despachados em cinco linhas).
O idiosincrático método narrativo de Roth consiste em arrastar um dilema através da dialéctica interna de uma ou mais personagens; é um processo predominantemente vocal. Ao contrário de outros canónicos companheiros de geração - Bellow e Updike, os exemplos mais óbvios - Roth não possui o que se possa chamar um estilo próprio. Quando se recorre preguiçosamente ao jargão crítico e se define uma determinada passagem como 'rothiana' está-se a tactear numa direcção nebulosa onde 'estilo' se confunde com 'voz'. E é a inconfundível 'voz' rothiana - grávida de ecos, mas sempre frugal na distribuição de alusões - que filtra e modula o problema narrativo, ao longo de falsos começos e becos sem saída aparente, como numa linha de montagem invertida. De um lado entra o produto acabado, que costuma ser uma dúvida metafísica ("Como escapar à identidade que se herda?" em The Human Stain; "Como continuar a viver num mundo que se odeia?" em Sabbath's Theater; "Como dar uma queca sem a sombra materna por perto?" em Portnoy's Complaint); do outro lado da fábrica saem farrapos luminosos de matéria-prima, destituídos de congruência, e um corpo cicatrizado por todo o processo de inquérito - apenas um corpo, já que os personagens de Roth, ao contrário dos de Bellow, não têm alma: todas as feridas são sentidas na carne. Qualquer investida na direcção do espiritual vem acompanhada de garridos cartazes: "Perigo: Banha da Cobra". (A opinião de Philip 'figura pública' Roth sobre religião organizada faz Richard Dawkins parecer o arcebispo de Braga).
Mas talvez a violência da generalização seja excessiva. Roth sempre foi um escritor didáctico, mas capaz de aplicar uma estranha democracia. O dilúvio de vozes provém de uma fonte única, mas as personagens nunca repetem intenções, nem se comportam como meros porta-vozes, lendo competentemente de um auto-ponto (aquilo que me irrita em DeLillo, por exemplo): o provinciano, o generoso, o intelectual, o estafermo, o ateu, o pio, todos têm acesso ao púlpito - e a uma paleta emocional que não exclui as lágrimas, o humor inapropriado, o ridículo, o kitsch, o depravado, a queixa, e o azedume. A inconfundível retórica é partilhada, espumando uma maior ou menor quantidade de perdigotos, mas cancelando qualquer dogmatismo debaixo de uma torrente de contraditórios.
Em Everyman, contudo, esse ventriloquismo é sereno, discreto, quase cansado. A intenção pode muito bem ter sido a de universalizar tranquilamente um problema - intenção de resto sinalizada pela escolha de um protagonista sem nome - e prescrever uma atitude de estóica e racional resignação, sem recurso a consolos espirituais fraudulentos, mas o produto final assemelha-se mais a uma versão diluída do particularismo envenenado de Sabbath: a incapacidade de ver qualquer lógica na ideia de fim. «Envelhecer», diz-nos o narrador, «não é uma guerra. É um massacre».
O certo é que se nota ao longo de todo o livro um sentido de urgência - uma urgência diferente, não tanto em grau como em género, daquela a que Philip Roth nos habituou. O meu exemplar, adquirido na semana de lançamento, trazia uma tira de papel entre o frontspício e a epígrafe: uma errata, corrigindo um plural incorrecto em Latim ("anni horribili") e esclarecendo uma confusão com a residência de um personagem. O tipo de pormenores cuja responsabilidade deve ser atribuída ao revisor, mas ainda assim um sinal de edição apressada - e de uma novela que não podia correr o risco de ser póstuma. Para alguém que nega com tão lúcida veemência a possibilidade de uma vida depois do corpo, todos os debates - sobre a vida, sobre a morte, sobre a obra - são para ter agora.
Foi outro Philip, o crítico Philip Rahv, o primeiro a identificar dois arquétipos dominantes entre escritores americanos: os 'palefaces' e os 'redskins'. Os primeiros seriam os estetas formais e europeizados (Henry James, Poe, Fitzgerald); os segundos, os nativos energéticos e instintivos (Mark Twain, Whitman, Hemingway). Roth, caracteristicamente, preferiu subverter a classificação e auto-definir-se como 'redface'. Em Everyman, contudo, ele é temporariamente um 'paleskin'; o livro tem uma energia vacilante, que abafa os seus dons mais óbvios, e nos força a reparar no que se perdeu. A ausência mais notória é a do humor, o humor desesperado - a roçar a histeria - de Sabbath, de Portnoy. Um humor com raízes inconfundivelmente judaicas, mas temperado pela tradição literária europeia que mais influenciou Roth (a que vai de Rabelais a Céline), e redfaced pelas suas torres gémeas: a ira e a vergonha.
A velha irreverência traumatizada palpita apenas uma vez em Everyman, quando um jovem de 11 anos espera nervosamente por uma operação de rotina. É uma cena que não poderia ter sido escrita por mais ninguém, e que arranca a única gargalhada de um livro claustrofobicamente funéreo:
Em Everyman, contudo, esse ventriloquismo é sereno, discreto, quase cansado. A intenção pode muito bem ter sido a de universalizar tranquilamente um problema - intenção de resto sinalizada pela escolha de um protagonista sem nome - e prescrever uma atitude de estóica e racional resignação, sem recurso a consolos espirituais fraudulentos, mas o produto final assemelha-se mais a uma versão diluída do particularismo envenenado de Sabbath: a incapacidade de ver qualquer lógica na ideia de fim. «Envelhecer», diz-nos o narrador, «não é uma guerra. É um massacre».
O certo é que se nota ao longo de todo o livro um sentido de urgência - uma urgência diferente, não tanto em grau como em género, daquela a que Philip Roth nos habituou. O meu exemplar, adquirido na semana de lançamento, trazia uma tira de papel entre o frontspício e a epígrafe: uma errata, corrigindo um plural incorrecto em Latim ("anni horribili") e esclarecendo uma confusão com a residência de um personagem. O tipo de pormenores cuja responsabilidade deve ser atribuída ao revisor, mas ainda assim um sinal de edição apressada - e de uma novela que não podia correr o risco de ser póstuma. Para alguém que nega com tão lúcida veemência a possibilidade de uma vida depois do corpo, todos os debates - sobre a vida, sobre a morte, sobre a obra - são para ter agora.
Foi outro Philip, o crítico Philip Rahv, o primeiro a identificar dois arquétipos dominantes entre escritores americanos: os 'palefaces' e os 'redskins'. Os primeiros seriam os estetas formais e europeizados (Henry James, Poe, Fitzgerald); os segundos, os nativos energéticos e instintivos (Mark Twain, Whitman, Hemingway). Roth, caracteristicamente, preferiu subverter a classificação e auto-definir-se como 'redface'. Em Everyman, contudo, ele é temporariamente um 'paleskin'; o livro tem uma energia vacilante, que abafa os seus dons mais óbvios, e nos força a reparar no que se perdeu. A ausência mais notória é a do humor, o humor desesperado - a roçar a histeria - de Sabbath, de Portnoy. Um humor com raízes inconfundivelmente judaicas, mas temperado pela tradição literária europeia que mais influenciou Roth (a que vai de Rabelais a Céline), e redfaced pelas suas torres gémeas: a ira e a vergonha.
A velha irreverência traumatizada palpita apenas uma vez em Everyman, quando um jovem de 11 anos espera nervosamente por uma operação de rotina. É uma cena que não poderia ter sido escrita por mais ninguém, e que arranca a única gargalhada de um livro claustrofobicamente funéreo:
Dr. Smith was wearing a surgical gown and a white mask that changed everything about him - he might not even have been Dr. Smith. He could have been someone else entirely, someone who had not grown up the son of poor immigrants named Smulowitz, someone his father knew nothing about, someone nobody knew, someone who had just wandered into the operating room and picked up the knife. In that moment of terror, when they lowered the ehter mask over his face as though to smother him, he could have sworn that the surgeon, whoever he was, had whispered, "Now I'm going to turn you into a girl."

3 comentários:
Rogério,
Não estava para comentar, ia emeilar-te para umas divagações sobre o fascínio de Roth. Mas havendo lido o comentário anterior, de pendor anglicista, sobre DeLillo lembrei-me das penas e do alcatrão, mas não foi no meu blogue...
Há uns meses enfureci-me com um crítico de críticos (um tal de B.R. Myers) que, arrogando-se das qualidades de um defensor dos leitores, dizia que a classe era muito benevolente com DeLillo, sendo ele um escritor pouco dotado e fiel representante da "prosa provocadora ou irritadiça" a que ele também chama de alienada (no entanto, bate em Kakutani pela sua admiração desmedida por DeLillo, o que convenhamos é um ponto positivo).
Apenas este trio, para não ir aos calhamaços pynchonianos: Mao II, Cosmopolis e Os Nomes.
André, eu também li o «Reader's Manifesto» do Myers, e enfureci-me muito pouco. Acho que ele coloca o dedo nalgumas feridas jeitosas (a reputação inflaccionada de Paul Auster, por exemplo), embora a sua escolha de exemplos específicos seja infeliz.
Sobre o DeLillo já disse que chegue. O White Noise é uma obra-prima. Partes de Underworld e Libra são muito, muito boas. Mas também há muita coisa ridícula; e há parágrafos em Cosmopolis que envergonhariam uma autobiografia do Octávio Machado.
http://pastoralportuguesa.blogspot.com/2006/08/o-milagre-subtractivo.html
http://pastoralportuguesa.blogspot.com/2006/09/o-lugar-na-estante.html
Rogério,
Não creio que Auster tenha uma reputação sobreavaliada. Em comparação com os seus contemporâneos e, mais em concreto, com os da sua geração é normalmente depreciado pela crítica.
Gostos são gostos, não quero dizer que não os possamos discutir (à revelia do adágio), mas no caso de Auster todos lhe batem na cabeça, apelidando-o de tortuoso, negro, pós-modernista, minimalista, de linguagem coloquial, homem de mente perturbada, e por aí fora.
No entanto, há uma evidência dificilmente refutável, o homem tem uma horda de seguidores que raramente o abandonam (na qual me incluo). Satisfaz com a sua escrita (por muito lean que possa parecer) um conjunto de pessoas que buscam precisamente isso.
Não te vou negar que aprendi a ler Auster num dos momentos mais difíceis da minha vida, a perda irreparável de uma pessoa que era uma parte substancial da minha vida, e em Auster encontrei a descrição do perigo da eterna prisão das nossas dolorosas rememorações. Lembro-me do muro de A Música do Acaso, nele vi a minha vida.
Desculpa-me o sentimentalismo e esta fidelidade canina ao meu escritor favorito (sem que te consiga dar um rol de motivos por este encantamento).
André
Enviar um comentário